A posição sucessória do cônjuge sobrevivo no Direito Português: a propósito da Lei 48/2018, de 14 de Agosto
O cônjuge sobrevivo, não separado de pessoas e bens, é herdeiro legitimário do autor da sucessão.
No caso de concorrerem à sucessão o cônjuge sobrevivo e um ou mais descendentes bem como na hipótese de o cônjuge sobrevivo concorrer com um ou mais ascendentes, a legítima é de dois terços da herança. Se o cônjuge sobrevivo vier à herança como único herdeiro legitimário, a legítima será de metade da herança. Quando concorre com ascendentes cabem ao cônjuge dois terços da legítima e quando concorre com descendentes não pode caber-lhe menos do que um quarto da legítima.
Na sucessão legítima o cônjuge também integra a primeira classe sucessória, se à herança vierem descendentes do falecido; integra a segunda classe, se concorrer com ascendentes na falta de descendentes. Finalmente, cabe-lhe toda a quota disponível [1], se não existirem descendentes nem ascendentes.
A tutela sucessória do cônjuge sobrevivo projeta-se ainda de outro modo: reconhecendo o direito de exigir, em partilhas, que lhe seja atribuído o direito de habitação da casa de morada da família bem como o direito de uso do respetivo recheio sendo que, se o valor destes direitos exceder o da sua parte sucessória acrescida da meação, se a houver, terão os restantes herdeiros direito a tornas [2].
O atual regime resulta da Reforma de 1977 ao Código Civil, que considerou que a família tende hoje a concentrar-se no núcleo constituído pelos cônjuges e pelos filhos; para além deste núcleo, só os que conservam a possibilidade de efetivas relações pessoais com o de cujus devem ser chamados a suceder-lhe e que a situação que o direito vigente atribui ao cônjuge sobrevivo na escala dos sucessíveis legítimos, bem como a sua exclusão da sucessão legitimária, está longe de ajustar-se àquela concepção de família nuclear ou família conjugal já referida, que é a concepção dominante no tipo de sociedade a que se reconduz a actual sociedade portuguesa.
Concepção da qual decorre que ao cônjuge, entrado na família pelo casamento, deve caber um título sucessório semelhante em dignidade ao dos descendentes que na família entraram pela geração [3].
Nem sempre foi assim.
***
Direi, com LEITE DE CAMPOS [4], que compreender uma instituição é fazer a sua genealogia.
Para a fazer, há que recordar que o Direito das sucessões é Direito da propriedade – reflexo da importância da propriedade privada e da respetiva função social -, mas é também Direito da família, a célula social básica na qual o indivíduo se integra acima de tudo [5].
É, na verdade, um aspeto da disciplina das relações familiares pessoais [6].
Tanto assim é que a sucessão legítima se apoia na presunção legal, juris tantum, de que era vontade do de cujus que os seus bens se conservassem na família e por sua vez a legitimária assenta nas ideias de tutela, do dever de prover ao sustento mesmo depois da morte, de uma ideia de compropriedade familiar [7].
***
No Código de Seabra a ordem da sucessão colocava os descendentes, seguidos dos ascendentes, dos irmãos e seus descendentes, em preferência ao cônjuge sobrevivo.
A preferência justificava-se pelo facto de o regime supletivo de bens do casamento ser o da comunhão geral – também apelidado de costume do reino - e de se considerar que a comunhão fornecia proteção adequada à viúva (ou ao viúvo [8]), uma vez que a meação nos bens comuns lhe permitia já manter um nível de vida semelhante àquele que tivera durante o casamento. Sendo que, se assim não fosse, tinha ainda a faculdade de ser alimentado pelos seus descendentes (que o seriam também, normalmente, do cônjuge falecido) ou através dos rendimentos da herança.
A lei conferia-lhe ainda o legado do usufruto da totalidade da herança, quando a ela fossem chamados os irmãos e seus descendentes e de metade, quando esta era entregue aos ascendentes ilegítimos [9]. Era um legado legal, mas legítimo, eliminável por testamento.
Apesar deste regime, que parecia favorecer os laços de sangue, a verdade é que o costume do reino, o regime supletivo da comunhão geral, reforçava a ligação dos cônjuges: o casamento era motivo de aquisição e a consequência sucessória era que os bens abandonassem, em parte, a linha familiar em que se encontravam.
Para o legislador de 1867, note-se, o casamento ainda era perpétuo, dissolúvel apenas por morte e passível, em vida, de mera “suspensão” por via da figura da separação judicial de pessoas e bens [10].
***
Os Republicanos de 1910, com fortíssimo ímpeto anticlerical, imediatamente transitaram do antigo sistema de casamento católico obrigatório para o sistema oposto, o de casamento civil obrigatório, e passaram a permitir o divórcio.
Foi este o primeiro grande abalo sofrido pela instituição matrimonial, que para os revolucionários não reveste carácter sacramental e não é senão um contrato de direito civil.
Esta ideia – de que o casamento não é senão um contrato – foi, ao menos em letra, transposta ao Código que hoje celebramos e perdura – reforçada, até – nos nossos dias.
Embora o sistema tenha sido mitigado pelo Estado Novo - que celebrou com a Santa Sé, em 1940, uma Concordata – para um de casamento civil facultativo, reconhecendo-se efeitos civis ao casamento católico e às respetivas vicissitudes (nulidade, dispensa do casamento rato não consumado), o artigo 1577.º do Código de 1966 continuou a rezar que “o casamento é um contrato entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida”.
A verdade, porém, é que houve um hiato – aquele período de tempo durante o qual vigorou a Concordata de 1940, sem o Protocolo Adicional a que as revoluções de 1974 e 1975 e a Constituição de 1976 obrigaram – em que o casamento era um sacramento, uma instituição perpétua, ao menos para alguns: aqueles que casavam catolicamente renunciavam, por força do disposto no artigo XXIV da Concordata de 1940 e “Em harmonia com as propriedades essenciais do casamento católico”, à faculdade civil de se divorciarem [11].
***
Ainda antes do Protocolo adicional à Concordata, o Código de 1966, cuja entrada em vigor celebramos, já reconheceu um fenómeno sociológico de diminuição progressiva da estabilidade do casamento. É essa instabilidade que justifica a adoção do regime da comunhão de adquiridos como regime de bens supletivo.
É uma alteração substancial, que o legislador mitiga [12] permitindo que os cônjuges convencionem que a partilha se fará, qualquer que seja o regime adoptado, segundo o regime da comunhão geral no caso de morte e se houver filhos.
Não foi o então novíssimo Código ao ponto de consagrar o cônjuge como herdeiro legitimário. Continuou a ser mero herdeiro legítimo e ainda atrás dos descendentes, dos ascendentes e dos irmãos e seus descendentes. Cabia-lhe ainda o legado legítimo do usufruto de metade da herança e conservava o direito a ser mantido pelos rendimentos da herança [13].
O saldo foi, portanto, negativo para o cônjuge na comparação entre o Código de Seabra e o Código de 1966: perdeu as vantagens do regime da comunhão geral supletivo e manteve as desvantagens no estatuto sucessório [14].
***
A entrada em vigor da Constituição de 1976 esteve na origem da Reforma de 1977 ao Código Civil. A Constituição veio consagrar a igualdade entre cônjuges, pelo que a mulher deixou de poder estar sujeita à tutela do marido, bem como a proibição da discriminação entre filhos nascidos dentro e fora do casamento, ou seja, filhos legítimos e filhos ilegítimos.
Em consequência da nova Constituição e também da suprarreferida diminuição progressiva da estabilidade do casamento, o legislador ordinário reformou de forma profunda o Direito da família e das sucessões.
A alteração mais substancial foi precisamente a do estatuto sucessório do cônjuge sobrevivo: o cônjuge passou a ser herdeiro legitimário e legítimo, sozinho ou em concurso quer com descendentes quer com as ascendentes, integrando a primeira e a segunda classe de sucessíveis. Os irmãos e seus descendentes e outros colaterais até ao sexto grau perderam a qualidade de herdeiros legitimários, passando a ser apenas herdeiros legítimos, para além de serem arrastados para a terceira e quarta classes de sucessíveis, respectivamente.
Mais do que herdeiro legal, legitimário e legítimo, o cônjuge passa a ser um herdeiro privilegiado já que, em concurso com descendentes, não lhe pode caber menos do que um quarto da herança [15] e em concurso com ascendentes, tem direito sempre a dois terços da herança [16].
Paralelamente, o cônjuge sobrevivo tem certos legados legais, a que já me referi: os previstos nos artigos 2013.º-A a 2103.º C do Código, que prevêem o direito do cônjuge a habitar a casa de morada da família e a usar o respectivo recheio. Estes legados legais, que antes eram legítimos, são hoje legitimários [17].
Note-se ainda que o cônjuge não está, ao contrário do que acontece com os descendentes [18], obrigado à colação, isto é, a lei não o obriga a conferir os bens que lhe hajam sido doados pelo autor da sucessão, imputando-os na sua legítima. Isto acontece quer se trate de sejam doações feitas antes do casamento quer de doações para casamento feitas na convenção antenupcial pelo outro nubente quer, finalmente, de doações entre casados. Estas doações, aliás, são válidas em qualquer regime de bens, excepto as doações entre casados nos casos em que a lei impõe imperativamente o regime da separação [19].
Havendo autores que entendem que se trata de uma lacuna legislativa [20], a verdade é que a ser, de facto, intenção não escrita da Comissão de 1977 sujeitar o cônjuge à colação, não há jurisprudência de relevo que o faça e o legislador não se preocupou até ao momento, volvidos quarenta anos, em esclarecer a questão.
***
O estatuto sucessório do cônjuge sobrevivo foi, como vimos, fortalecido ao longo dos anos, em contraponto com a desvalorização da relação matrimonial que o próprio Código de 1966 admitiu, ao alterar o regime supletivo do casamento da comunhão geral para a de adquiridos e bem assim com as várias reformas que, em 1977, nos anos oitenta e noventa e no início do século XXI, foram sendo feitas a propósito do divórcio, sempre no sentido de o facilitar do ponto de vista formal e substancial.
Até a Santa Sé capitulou, alterando-se, por via do Protocolo Adicional de 1975, a redação do artigo XXIV. O atual artigo XV da Concordata de 2004, que substituiu a de 1940, mantém o texto resultante do Protocolo e limita-se hoje a recordar aos cônjuges “que contraírem o matrimónio canónico o grave dever que lhes incumbe de se não valerem da faculdade civil de requerer o divórcio”.
Do ponto de vista fiscal, a Fazenda beneficiou com a alteração do regime supletivo de bens do casamento e ainda mais com a Reforma de 1977, até à entrada em vigor do Código do Imposto de Selo moderno, momento a partir do qual se isentaram da verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo as transmissões gratuitas a favor do cônjuge, dos descendentes e dos ascendentes, i.e., dos herdeiros legitimários. Note-se, porém, que hoje em dia, depois da chamada Reforma da Tributação do Património, a isenção também abrange o unido de facto, que não é herdeiro legal [21] [22].
***
Como conjugar o estatuto sucessório do cônjuge sobrevivo que resulta da Reforma de 77 com as disposições originárias de 1966, ainda hoje em vigor, dos artigos 1720.º e 1762.º do Código que impõem o regime da separação – e a nulidade das doações entre casados – quando um ou ambos os nubentes tenham sessenta ou mais anos, procurando assim evitar os casamentos do tipo “golpe do baú”?
Seria talvez mais ajustado que o cônjuge casado na separação de bens – e, por maioria de razão, imperativamente na separação - não fosse herdeiro legitimário, ainda que, no limite, conservasse a qualidade de herdeiro legítimo, sendo que se continuariam a permitir, mesmo no regime imperativo, as disposições com conteúdo sucessório a favor do cônjuge.
Como conciliar, por outro lado, estes privilégios sucessórios com a ideia basilar de 1966, que presidiu à alteração do regime supletivo, de conservar os bens na linha familiar de sangue? A transmissão que o legislador de 1966 pretendeu não ocorresse por força do casamento ocorre, graças ao legislador de 1977, pela dissolução do casamento por morte.
Pouco sentido fez, por outro lado, manter em 1977 [23] a permissão do artigo 1719.º do Código Civil de que os nubentes convencionem, para caso de o casamento de dissolver por morte e de (só [24]) haver filhos comuns, que a partilha se faça segundo o regime da comunhão geral, seja qual for o regime adotado, permissão que se compreendia melhor quando, entre 1966 e 1977, o cônjuge não era herdeiro legitimário nem estava automaticamente protegido pelo regime supletivo da comunhão geral.
O regime atual está bem assim em perfeita dissonância com os ataques que progressivamente foram sendo feitos à relação matrimonial, designadamente, em 2008, com a entrada em vigor da lei 61/2008, de 31.10, que aprovou o novo regime jurídico do divórcio e que resultou de uma intenção do legislador, claramente expressa no projeto de lei, de impedir que o casamento seja fonte de enriquecimento.
O novo regime jurídico do divórcio transformou o casamento-instituição - que, apesar da expressão contrato do artigo 1577.º, estou convicta que ainda enformava de certa forma o respectivo regime jurídico – em algo que, como se afirmava na Constituição Francesa de 1791, não é senão um contrato de direito civil; Um acordo de vontades à disposição das partes, que só se mantém enquanto, como no direito romano, durar a affectio maritalis e que termina hoje (quase) por repúdio unilateral.
É este casamento, que não se quer seja fonte de enriquecimento, o que justifica que todas as antigas sanções patrimoniais do divórcio para o cônjuge único ou principal culpado sejam hoje verdadeiros efeitos do divórcio para ambos os cônjuges; É este casamento, dizia eu, que justifica uma tal herança?
Como pode o legislador, que facilita o divórcio e que afirma que não quer que o casamento [25]seja fonte de enriquecimento para os cônjuges, no mesmo fôlego sancionar a dissolução do casamento por divórcio [26] e continuar a premiar a dissolução por morte?
E o que dizer, finalmente, deste estatuto sucessório a partir de 2010, quando o legislador, singelamente retirando três palavras, “de sexo diferente”, ao artigo 1577.º do Código Civil, transformou o casamento civil [27] num fenómeno que muito pouca ligação tem à conceção do legislador de 1966, de 1977 e de todos os que se lhe seguiram, até à Lei 9/2010, de 31.05 [28].
O artigo 13.º da nossa Constituição, ao proibir a discriminação em função do género, da raça, das convicções religiosas, da orientação sexual, etc., é um artigo que celebra a diferença e que tem sido usado para promover a igualdade forçada, a igualação entre os dois géneros (rectius, vários géneros, trinta e um oficialmente reconhecidos na cidade de Nova Iorque!) [29] .
No contexto actual - admitindo que o ímpeto reformista se manterá e que as reformas já não terão retrocesso e, mais não seja, para conservar a unidade axiológica do sistema - importa adaptar o Direito das sucessões ao moderno Direito da família: hoje, diante da moderna conceção do casamento, não faz já qualquer sentido premiar a dissolução por morte e castigar a dissolução por divórcio. Não faz, portanto, sentido que se imponha ao autor da sucessão o seu cônjuge, que outrora foi perene e hoje é por natureza caduco, como herdeiro legitimário ainda que este conserve a posição de herdeiro legítimo.
Melhor seria, creio, que ao lado dos legados legais de uso e habitação da casa de morada da família e de uso do recheio, que são um reflexo post mortem do dever de coabitação que existe durante o casamento, se consagrasse para o cônjuge um direito a alimentos a reclamar da herança, continuação do dever conjugal de assistência.
Querendo o autor da sucessão beneficiar o cônjuge, lançaria mão da quota disponível, por ato em vida ou mortis causa, sendo que esta teria forçosamente de ser alargada, até pelo desaparecimento de um concorrente à legítima e no respeito pela autonomia privada e pela liberdade de disposição.
O legislador, no Direito sucessório, esqueceu que os princípios que presidiram à consagração da legítima dos herdeiros legitimários têm de ter em conta a evolução psicológica e sociológica nas conceções dominantes sobre a família, sobre os laços mais ou menos estreitos, mais ou menos duradouros que vigoram entre os membros da família [30].
Urge, aliás, travar a muito portuguesa síndrome de herdeiro, a obsessão dos vivos pela morte daqueles a que vão um dia suceder, que vai muitas vezes ao ponto de lhes cercear a liberdade em vida.
Pergunto-me também se a instituição familiar e o próprio tecido económico-social não beneficiariam de um regime sucessório menos espartilhado, que permitisse, por exemplo, a criação de regimes fiduciários mais amplos do que a limitadíssima substituição fideicomissária.
***
Já depois da comunicação ao Colóquio de Comemoração dos 50 anos do Código Civil, da qual este artigo é a resenha, foi submetido à Assembleia da República um Projeto de Lei, que recebeu o número 758/XIII, (da Autoria do Deputados Fernando Rocha Andrade e Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista) propondo a alteração do artigo 1700.º do Código Civil de modo a reconhecer aos cônjuges “a possibilidade de renúncia à condição de herdeiro legal na convenção antenupcial”, desde que “o regime de bens seja o da separação, e desde que recíproca”.
O que anima o legislador foi, curiosamente, o propósito de favorecer o casamento nos casos em que haja filhos de relações anteriores.
Discordando, por várias razões da solução encontrada (porque não faz sentido unir esta renúncia ao regime de bens, porque a renúncia não é necessariamente a favor dos filhos, mas também da quota disponível, porque não é necessário renunciar por contrato à condição de herdeiro legítimo, que pode ser livremente afastada pelo de cujus e por muitas outras que ao diante deixarei explanadas, mas acima de tudo porque é uma alteração pouco pensada, truncada e claramente “de encomenda”), sempre registo o apreço aparentemente demonstrado pela relação matrimonial.
Este Projeto, depois de algumas alterações de relevo, que visaram proteger a posição do cônjuge sobrevivo renunciante no que respeita à casa de morada da família e respetivo recheio e a direito a alimentos, que a proposta inicial não contemplava, foi vertido à Lei 48/2018, de 14 de agosto.
Ostensivamente, a Lei não visa uma alteração profunda ao regime sucessório português, tão só - na tradição, aliás, da permissão excecional dos contratos sucessórios - favorecer o casamento, designadamente aqueles de famílias recriadas, com filhos de outras relações anteriores, muitos vezes vivendo em união de facto e que evitam o casamento precisamente para não criar um herdeiro legitimário concorrente com os descendentes, para mais um relativamente ao qual os descendentes de um e outro não terão nenhuma expectativa hereditária de fonte legal.
***
O nosso Código Civil sempre admitiu contratos sucessórios entre nubentes com o mesmo ânimo favor matrimonii: o casamento goza do favor do Direito, na tradição canónica. A exceção à regra da nulidade dos contratos sucessórios, de succedendo, de non succedendo e de successioni ou hereditati tertii, do artigo 2028.º, está precisamente na possibilidade de os nubentes fazerem contratos do tipo dispositivo ou de succedendo, a título de herança ou legado, sob condição ou a termo ou até com cláusulas de reversão ou fideicomissárias, entre eles, reciprocamente ou não (cf. os artigos 1700.º e seguintes do CC).
São as chamadas doações mortis causa para casamento, que se distinguem das disposições testamentárias a título de herança ou legado porque há uma proposta e uma aceitação contemporâneas, formando-se contrato que, no caso de doador e donatário serem os nubentes e não terceiros, é irrevogável uma vez celebrado o casamento, mesmo que haja acordo entre os cônjuges, mas caduca caso o casamento fracasse, i.e., se dissolva por divórcio ou sofra uma modificação grave, na forma de uma separação de pessoas e bens [31].
A lei já permitia ainda a hipótese de um terceiro fazer disposições deste tipo contratual, na convenção antenupcial, a favor de um ou de ambos os esposados, com cláusulas de reversão ou fideicomissárias e, bem assim, a hipótese de um ou os nubentes, sempre na convenção, beneficiar(em) um terceiro com uma doação mortis causa [32]. O terceiro terá, neste caso, de intervir na convenção como aceitante, sob pena de a disposição ter valor meramente testamentário – revogável livremente, a todo o tempo – e, bem assim, as doações mortis causa feitas fora da convenção são ope legis, respeitada que seja a forma do testamento, reduzidas a disposições testamentárias (cf. os artigos 946.º, n.º 2 e 1704.º do CC).
O que distingue as disposições contratuais a título de herança ou legado das testamentárias, do ponto de vista da vontade, é que neste as manifestações de vontade do de cujus e do sucessível constituem atos distintos, separados por um fosso, que é a morte de autor da sucessão, enquanto naquele as duas manifestações de vontade se fundem num só ato [33]. Testamento e aceitação são manifestações de vontade corelacionadas, mas diversas, no caso da sucessão voluntária testamentária; juntam-se no corpo único de um contrato, no caso da sucessão voluntária contratual.
Há muito se questiona a possibilidade de, na convenção antenupcial, os nubentes fazerem ao outro ou reciprocamente legados em substituição da legítima. Um tal legado implica a perda do direito à legítima, incluindo no que se refere à igualação - no caso de descendentes - e ao direito de acrescer. A aceitação de um legado em substituição da legítima implica ainda, para o cônjuge, a perda das atribuições preferenciais que implicam o encabeçamento no momento da partilha, já que o legatário não concorre à partilha.
A favor dessa possibilidade por via de contrato sucessório está a consagração legal deste tipo de legados, que, nos termos do disposto no artigo 2165.º do CC, se imputam em primeiro lugar na legítima virtual que o legatário teria se não tivesse aceitado o legado e o eventual excesso, na quota disponível. Caso o legado não chegue ao valor da legítima virtual do legatário, a diferença acresce aos herdeiros legitimários que com ele concorreriam ou, não existindo, acrescentará ao valor da quota disponível.
Contra esta possibilidade – antes da entrada em vigor da Lei que aqui analiso – o facto de a aceitação em convenção antenupcial de um legado em substituição da legítima implicar uma renúncia antecipada, por contrato, do direito à legítima, configurando um pacto sucessório renunciativo, que a lei não permitia expressamente. Recorde-se que face à regra da nulidade, a admissibilidade dos contratos sucessórios tem natureza excecional e não se presta, portanto, a interpretação extensiva sem grandes cautelas e seguramente não, a integração analógica.
Com a entrada em vigor da Lei 48/2018 e a consagração, na nova alínea c) do artigo 1700.º, da possibilidade de os nubentes renunciarem – reciprocamente ou não – à posição sucessória do cônjuge sobrevivo, abre-se a porta à permissão legal de um pacto de non succedendo e a tese da viabilidade dos legados em substituição da legítima na convenção antenupcial fica mais risonha. Ainda assim, é pena que o legislador não tenha aproveitado a oportunidade para consagrar expressamente essa possibilidade: ao invés da renúncia total, o futuro cônjuge podia ser compensado com um legado.
Recordo o que acima disse quanto à posição sucessória do cônjuge sobrevivo a que pela forma agora permitida se renunciará: o cônjuge é herdeiro legitimário quer sozinho, sendo a respetiva legítima, nesse caso, de metade da herança, quer em concurso com ascendentes, hipótese na qual lhe cabem 2/3 da legítima objetiva que, por sua vez, será de 2/3 da herança, quer, finalmente, em concurso com descendentes, caso em que não lhe pode caber menos do que ¼ da legítima, que é igualmente de 2/3 da herança total, sempre calculada segundo a fórmula relictum – passivo + donatum, i.e., restituindo ficticiamente à massa da herança as liberalidades feitas em vida pelo autor da sucessão, evitando que este ponha em causa através de doações entre vivos a legítima da qual não pode dispor mortis causa (cf. os artigos 2156.º e 2162.º do CC).
O cônjuge não está, ao contrário dos descendentes, sujeito à colação das liberalidades que tenha recebido em vida do de cujos e tem as atribuições preferenciais que referi acima: o deito a ser encabeçado, no momento da partilha, ainda que a deduzir à quota hereditária, no direito de habitar a casa de morada da família e de usar o respeito recheio.
Renunciando à posição sucessória legitimária na convenção antenupcial ao abrigo da nova alínea c) do artigo 1700.º do Código Civil, o nubente renuncia a tudo isto. É que quer a aceitação quer o repúdio têm carácter uno – além de irrevogável – e a declaração de vontade de aceitar, nos contratos de succedendo, ou de repudiar, nos de non succedendo, constitui um ato antecipado, irrevogável e uno, de suceder ou de não suceder [34]. Renunciando à chamamento a título legitimário, o cônjuge está a fazê-lo também a título legítimo, mercê da regra da indivisibilidade da vocação sucessória.
O princípio da princípio da indivisibilidade da vocação sucessória e suas exceções estão previstas no artigo 2055.º, que não nos resolve o problema [35], e no artigo 2250.º, cujo número 2 terá, aqui, aplicação: “O herdeiro que seja ao mesmo tempo legatário tem a faculdade de aceitar a herança e repudiar o legado, ou de aceitar o legado e repudiar a herança, mas também só no caso de a deixa repudiada não estar sujeita a encargos.”
Fora desta exceção, a de o nubente ser simultaneamente contemplado com uma doação mortis causa a título de legado ou o cônjuge renunciante, com um legado testamentário, o que tenha subscrito este pacto de não suceder não só perde a condição de herdeiro como a hipótese de ser contemplado com liberalidades mortis causa, a não ser que admitamos ainda a possibilidade do legado em substituição da legítima.
Outra questão que se coloca é que o novo número 2 do artigo 2168.º, introduzido pela Lei 48/2018, prevê que as liberalidades feitas pelo autor da sucessão ao cônjuge renunciante só sejam reduzidas, se inoficiosas, na parte que exceda a legítima virtual deste, i.e., a legítima a que ele teria direito se não tivesse celebrado o contrato renunciativo. Acontece que, como deixei dito acima, face ao princípio da indivisibilidade da vocação sucessória, dificilmente poderão ser liberalidades mortis causa.
Por outro lado, estas liberalidades inter vivos a favor do cônjuge sobrevivo renunciante, que ganham uma posição privilegiada na ordem das reduções das liberalidades inoficiosas, podem ser doações antes do casamento, doações para casamento e, no regime convencionado da separação, doações entre casados. Recorde-se, porém, que, no regime imperativo da separação, estas últimas são nulas, pelo que a posição do cônjuge renunciante é nesse regime muito desfavorecida, o que releva tanto mais que uma das situações em que o regime é imperativamente o da separação no caso de um ou ambos os nubentes ter(em) sessenta anos ou mais.
Melhor, do ponto de vista patrimonial, acaba por ser a posição do unido de facto do que a do cônjuge renunciante. Não podendo o unido de facto receber doações para casamento, inter vivos ou mortis causa (porque não vai casar e, logo, não celebra convenção antenupcial ou, ainda que a celebre, esta acaba por caducar no prazo de um ano se o casamento não vier a ser celebrado), nada o impede de receber doações inter vivos do outro, antes, durante, ou depois da união de facto ou de ser contemplado em testamento, com herança ou legado, pelo outro, ainda que sujeitas ao regime geral da redução por inoficiosidade.
Em qualquer caso, as doações para casamento e entre casados caducam em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens, mas as doações feitas ao unido de facto mesmo durante a união não estão sujeitas a este regime de caducidade em caso de dissolução da união em vida.
No mais, o regime de proteção da casa de morada da família constante do artigo 1707.º-A do Código, aditado por esta Lei 48/2018, é em quase tudo igual ao do artigo 5.º da Lei 7/2001, de 11 de Maio, e sucessivas alterações, vulgo, a Lei de Proteção das Uniões de Facto: o cônjuge renunciante e o unido de facto sobrevivos têm o direito real de habitação da casa de morada de família por cinco anos e o direito de uso do respetivo recheio por igual período, direitos que podem ser prorrogados pelo Tribunal por motivos de equidade, mas que caducam se não forem exercidos por mais de um ano, salvo motivo de força maior e que não existem se o cônjuge renunciante ou o unido de facto sobrevivos tiverem casa própria no mesmo concelho, incluindo os limítrofes nos casos de Lisboa e Porto.
O unido de facto e o cônjuge renunciante sobrevivos têm ambos o direito ao arrendamento da casa de morada da família, nas condições a fixar pelo Tribunal nos termos do direito real de habitação, e o direito de preferência na alineação do imóvel, bem como iguais direitos quando a casa de morada de família seja arrendada [36].
Do confronto entre o artigo 5.º da Lei de Proteção das Uniões de Facto e o novo artigo 1707.º-A, números 3 a 8, do Código Civil parece resultar, em desfavor do cônjuge renunciante sobrevivo, o facto de não se ter previsto a possibilidade de este ser comproprietário da casa e ou do recheio, circunstância que confere ao unido de facto sobrevivo aqueles direitos com carácter exclusivo, afastando, portanto, outros que com ele pudesse concorrer, previsão que faltou neste novo regime, sem justificação na medida em que o regime da separação, convencionado ou imperativo, não impede, naturalmente a compropriedade. A verdade é que o direito do unido de facto de permanecer na casa e o do cônjuge sobrevivo não renunciante, de ser encabeçado no momento da partilha com o direito de habitação da casa e de uso do recheio conferiam exclusividade a este, mas já não àquele, de onde a necessidade de ressalvar a possibilidade de o unido de facto sobrevivo ser comproprietário do imóvel. A esta luz, é possível imaginar que o legislador tenha querido conferir ao cônjuge renunciante sobrevivo direitos exclusivos, ao contrário do que fez para o unido de facto, de onde a eventual desnecessidade da referência à compropriedade. A ser assim, impunha-se que tivesse sido mais claro.
Acresce que cônjuge renunciante sobrevivo que seja comproprietário não terá, ao contrário do que acontece com o cônjuge meramente meeiro (que será o cônjuge repudiante depois da abertura da sucessão ou o cônjuge separado de pessoas e bens sem que se tenha procedido ainda à partilha do regime matrimonial de comunhão que vigorasse antes da separação) o direito a exercer o cargo de cabeça de casal, a não ser que seja testamenteiro, forçando-o a ver a parte indivisa dos bens em que tem compropriedade a ser administrada por terceiros, o que poderia ter sido resolvido com uma pequeníssima alteração à alínea a) do n.º 1 do artigo 2080.º do Código Civil: “ao cônjuge sobrevivo, não separado de pessoas e bens, se for herdeiro ou meeiro ou titular de bens em compropriedade com o de cujus”.
Do ponto de vista do direito a alimentos do cônjuge renunciante sobrevivo, fica em vantagem relativamente ao unido de facto: para este, a obrigação de alimentos da herança do falecido é, nos termos do artigo 2020.º do CC, subsidiária relativamente aos restantes obrigados referidos no artigo 2009.º; para aquele, segundo o artigo 1707.º-A, número 2, a renúncia não afeta o apanágio do cônjuge sobrevivo previsto no artigo 2018.º do CC, e o viúvo terá o direito a ser alimentado pelos rendimentos da herança do falecido.
Em conclusão, ainda que veja com satisfação qualquer alteração ao regime sucessório português que venha o sentido da liberalização, que defendo, e, por outro lado, que veja com bons olhos uma tentativa de favorecer o casamento, instituição tão vilipendiada nos últimos vinte anos, confesso que não aconselho, ao menos sem clara informação e cautelas, estes novos contratos renunciativos: o cônjuge renunciante fica, tudo ponderado, numa posição pior, do ponto de vista patrimonial, do que o unido de facto, pelo que só fortes razões de índole moral ou emocional os levarão a casar, apesar do prejuízo.
Lamento até que uma iniciativa que se declarou a favor do casamento venha a contribuir para o despir cada vez mais de relevância e aproximá-lo ainda mais de uma figura na qual, aliás, desde o início se levantaram dúvidas de que o Estado devesse imiscuir-se [37], a união de facto.
REFERÊNCIAS:
ALBALADEJO, Manuel. Curso Derecho Civil, Tomo V, Sucesiones. Barcelona: Bosch, 1989.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Sucessões. 5.ª, Revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2000.
BARROSO, Manuel Martins. Questões práticas de Direito das Sucessões e Imposto sobre as Sucessões e Doações. 3.ª atualizada. Braga, 1983.
BERDEJO, José Luis Lacruz. Elementos de Derecho Civil V, Derecho de Sucesiones. 4ª Ed. Barcelona: Dykinson, 2009.
CAMPOS, Diogo Leite de. “Família e Sucessão.” FDUC. s.d. http://www.fd.uc.pt/docentes/dlcampos/familiaesucessao000.pdf (acedido em 27 de 09 de 2017).
—. Lições de Direito da Família e das Sucessões. 2.ª Edição Revista e Atualizada. Almedina, 2001.
—. “O Estatuto Sucessório do Cônjuge Sobrevivo.” Relatório Português às Jornadas Turcas da Associação Henri Capitant. Livros & Temas, s.d. 449-458.
CAMPOS, Diogo Leite de, e Monica Martinez de CAMPOS. Lições de Direito da Família. Lisboa: Almedina, 2016.
CORTE-REAL, Carlos Pamplona. Curso de Direito das Sucessões. Lisboa: Quid Juris, 2012.
FARIA, Mário Roberto Carvalho de. Direito das Sucessões: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
FERNANDES, Luís A. Carvalho. Lições de Direito das Sucessões. 4.ª edição (revista e atualizada). Lisboa: Quid Juris, 2012.
GOMES, Orlando. Sucessões. 16.ª Edição. Forense, 2015.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 7, Direito das Sucessões. 8.ª Edição. Saraiva, 2014.
HÖRSTER, Heinrich Ewald. “Does Portugal Need to Legislate on De Facto Unions?” The International Journal of Law, Policy and the Family, 1 de 12 de 1999: 274–279.
IGLESIAS, Juan. Derecho Romano . 14.ª, revista. Barcelona: Editorial Ariel, 2002.
JUSTO, A. Santos. “Direito Privado Romano - V (Direito das Sucessões e Doações).” Stvdia Ivridica - Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2009: Separata.
NOGUEIRA, Joaquim Fernando. “A Reforma de 1977 e a Posição Sucessória do Cônjuge Sobrevivo.” Revista da Ordem dos Advogados, s.d.: 663-694.
OLIVEIRA, Arthur Vasco Itabaiana de. Tratado de Direito das Sucessões. 5.ª edição, revista e atualizada. Freitas Bastos, 1987.
PITÃO, José António de França. A Posição do Cônjuge Sobrevivo no Actual Direito Sucessório Português. Almedina, 2006.
SILVA, Gomes da. Direito das Sucessões. Coimbra: Associação Académica da Faculdade de Direito, 1962.
SOUSA, Rabindranath Capelo de. Lições de Direito das Sucessões. 4.ª. Renovada. Vol. I. II vols. Coimbra: Coimbra Editora, 2000.
—. Lições de Direito das Sucessões. 3.ª. Renovada. Vol. II. II vols. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.
TELLES, Inocêncio Galvão. “Direito das Sucessões. Anteprojeto de uma Parte do Futuro Código Civil Português.” Boletim do Ministério da Justiça, Março de 1956: pp. 19-136.
—. Direito das Sucessões - Noções Fundamentais. Lisboa: Centro de Estudos de Direito Civil da Faculdade de DIreito da UNiversidade de Lisboa, 1971.
—. Sucessões - Parte Geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
TOBEÑAS, Castán. Derecho Civil Español Común y Foral, Tomo VI, Derecho de Sucesiones, Vol. I, La sucesión en general. La sucesión Testamentaria (1ª parte),. 9ª Edición revisada y puesta al día por José María Castán Vázquez y José Batista Montero- Ríos. Madrid: Editorial Reus, 2010.
Vv. “Atas da Comissão Revisora do Anteprojeto do Direito das Sucessões do Futuro Código Civil Português.” Boletim do Ministério da Justiça, Fevereiro de 1964: pp.57 a 255.
[1] I.e., a parte da quota disponível da qual o de cujus não tenha validamente disposto, inter vivos ou mortis causa.
[2] É o que resulta da conjugação dos artigos 2156.º e 2157.º, 20133.º, 2139.º, n.º 1, 2142.º, n.º 1 e 2103.º-A a 2103.º-C) do Código Civil, na redacção em vigor à data em que escrevemos.
[3] Vide o preâmbulo do DL 496/77, de 25-11:
«Altamente controvertida tem sido a questão de saber em que termos deve o cônjuge sobrevivo ser chamado a concorrer à herança com os parentes em linha recta do falecido, e designadamente com os descendentes. Há quem sustente que lhe deverá ser atribuído apenas o usufruto da herança (ou de uma parte dela), como há quem defenda que ele deverá concorrer com os herdeiros em linha recta na propriedade da herança. A favor da primeira solução, alega-se fundamentalmente que ela assegura ao cônjuge sobrevivo a manutenção do ambiente e do nível de vida em que estava inserido, ao mesmo tempo que torna possível conservar os bens na família (entendida esta como família-linhagem, formada pela cadeia de gerações). Além de que a concessão do usufruto é suscetível de favorecer o cônjuge nas pequenas heranças, em que uma quota da propriedade pode não produzir o rendimento de que carece para se manter. Em defesa da segunda solução, observa-se ser a que melhor se adapta à moderna noção de família, em que o vínculo conjugal se equipara em dignidade ao do parentesco fundado no sangue. Pondera-se, por outro lado, que a consagração de um legado de usufruto dificulta a gestão dos bens da herança, afeta a sua livre circulação e cria possibilidades de conflito entre o beneficiário do usufruto e o beneficiário da raiz. Alega-se também que o estabelecimento dos filhos pode ser mais afetado pela concessão de um longo usufruto ao cônjuge sobrevivo do que pela atribuição de uma quota em propriedade. E não deixa de notar-se que o usufruto pode levar os filhos em dependência económica a vender a sua quota de raiz, com a consequente saída dos bens da família-linhagem. Pelo que toca à preocupação de assegurar ao cônjuge sobrevivo a possibilidade de continuar vivendo no ambiente que era o seu, observa-se que tal preocupação encontrará resposta adequada na atribuição preferencial de certos direitos sobre a residência da família e o seu recheio, conforme adiante se dirá. Tudo ponderado, foi à segunda das teses em presença que o Governo deu a sua preferência, no sentido de que ao cônjuge sobrevivo, quando concorra com descendentes, seja atribuída uma parte de filho, mas nunca inferior a um quarto da herança; e que, em caso de concurso com ascendentes, ele seja chamado a recolher dois terços da herança, cabendo aos ascendentes o restante.»
«Altamente controvertida tem sido a questão de saber em que termos deve o cônjuge sobrevivo ser chamado a concorrer à herança com os parentes em linha recta do falecido, e designadamente com os descendentes. Há quem sustente que lhe deverá ser atribuído apenas o usufruto da herança (ou de uma parte dela), como há quem defenda que ele deverá concorrer com os herdeiros em linha recta na propriedade da herança. A favor da primeira solução, alega-se fundamentalmente que ela assegura ao cônjuge sobrevivo a manutenção do ambiente e do nível de vida em que estava inserido, ao mesmo tempo que torna possível conservar os bens na família (entendida esta como família-linhagem, formada pela cadeia de gerações). Além de que a concessão do usufruto é suscetível de favorecer o cônjuge nas pequenas heranças, em que uma quota da propriedade pode não produzir o rendimento de que carece para se manter. Em defesa da segunda solução, observa-se ser a que melhor se adapta à moderna noção de família, em que o vínculo conjugal se equipara em dignidade ao do parentesco fundado no sangue. Pondera-se, por outro lado, que a consagração de um legado de usufruto dificulta a gestão dos bens da herança, afeta a sua livre circulação e cria possibilidades de conflito entre o beneficiário do usufruto e o beneficiário da raiz. Alega-se também que o estabelecimento dos filhos pode ser mais afetado pela concessão de um longo usufruto ao cônjuge sobrevivo do que pela atribuição de uma quota em propriedade. E não deixa de notar-se que o usufruto pode levar os filhos em dependência económica a vender a sua quota de raiz, com a consequente saída dos bens da família-linhagem. Pelo que toca à preocupação de assegurar ao cônjuge sobrevivo a possibilidade de continuar vivendo no ambiente que era o seu, observa-se que tal preocupação encontrará resposta adequada na atribuição preferencial de certos direitos sobre a residência da família e o seu recheio, conforme adiante se dirá. Tudo ponderado, foi à segunda das teses em presença que o Governo deu a sua preferência, no sentido de que ao cônjuge sobrevivo, quando concorra com descendentes, seja atribuída uma parte de filho, mas nunca inferior a um quarto da herança; e que, em caso de concurso com ascendentes, ele seja chamado a recolher dois terços da herança, cabendo aos ascendentes o restante.»
[4] Que, por seu turno, parafraseava Nietzsche. Cf. LEITE DE CAMPOS, Diogo, “O Estatuto Sucessório do Cônjuges Sobrevivo”, Relatório Português às Jornadas Turcas da Associação Henri Capitant, Livros & Temas, p. 449.
[5] NOGUEIRA, Joaquim Fernando, “A Reforma de 1977 e a Posição Sucessória do Cônjuge Sobrevivo”, Texto da comunicação ao Instituto da Conferência do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados em 15 de novembro de 1979, pp. 665.
[6] LEITE DE CAMPOS, “Família e Sucessão”, Coimbra, 1981.
[7] Idem, ibidem.
[8] Embora fosse neste domínio a mulher quem carecia de maior protecção, por razões sociais e também na medida em que não podia trabalhar nem exercer o comércio sem a autorização do marido e era este quem administrava os bens comuns.
[9] LEITE DE CAMPOS, “O Estatuto Sucessório do Cônjuge Sobrevivo”, p. 450.
[10] LEITE DE CAMPOS, “Família e Sucessão”, p. 6.
[11] Dando origem à expressão os presos da Concordata.
[12] LEITE DE CAMPOS, “O Estatuto Sucessório …”, p. 452.
[13] Artigos 2146.º e 2018.º.
[14] Idem, ibidem, p. 453.
[15] I.e., um quarto da legítima ou do remanescente da quota disponível a partilhar, conforme a vocação seja legitimária ou legítima.
[16] I.e., dois terços da legítima ou do remanescente da quota disponível a partilhar, conforme a vocação seja legitimária ou legítima. A lei de facto, não é clara, mas não é, a nosso ver, possível outra interpretação. Dizer que a legítima do cônjuge em concurso com descendentes não pode ser menor do que um quarto da herança ou que, em concurso com ascendentes, lhe cabem dois terços da herança, querendo referir-se à massa da herança calculada nos termos do artigo 2162.º ou até apenas ao relictum, seria aumentar a legítima objetiva. Logo, onde a lei diz “da herança” quer dizer da herança que se está a partilhar àquele título, ou seja, a legítima subjetiva do cônjuge é, em caso de concurso com descendentes, de um quarto ou mais da legítima e, em caso de concurso com ascendentes, de dois terços da legítima objetiva.
[17] Sendo que, por força do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, também os há - não diremos legitimários, mas seguramente imperativos - a favor do unido de facto.
[18] Pelos artigos 2104.º e 2105.º do CC.
[19] Neste caso, são permitidas doações para casamento, mas as doações entre casados são nulas: cf. os artigos 1720.º e 1762.º do Código Civil. Note-se que a lei não impede as doações para casamento mesmo nos casos em que impede que os cônjuges, por terem filhos (não comuns), estão proibidos de convencionar a comunhão geral. Cf. artigo 1699.º, n.º 2, que tem de ser objeto de uma interpretação restritiva já que a proteção que o legislador quer conferir às expectativas sucessórias dos descendentes não se justifica quando estes sejam filhos dos dois nubentes (e não haja filhos que não sejam comuns aos dois).
[20] Vide LEITE DE CAMPOS, “Parentesco, Família e Sucessão”, Revista da Ordem dos Advogados, 1985.
[21] Embora tenha, por lei, um legado.
[22] Cf. o artigo 6.º, alínea e), do Código do Imposto de Selo.
[23] Quase intocado, exceto no que respeita à referência ao regime dotal dos artigos 1738.º a 1752.º, revogados em 1977.
[24] Esta norma terá que se conjugar com a do artigo 1699.º, n.º 2. Esta proíbe a estipulação da comunhão geral ou da comunicabilidade dos bens do artigo 1722.º quando haja filhos, norma que se deve interpretar restritivamente no sentido de não se justificar a proteção quando os nubentes têm (e só têm) filhos comuns, na medida em que estes estão protegidos da transmissão que ocorre por via do casamento segundo o regime da comunhão geral do prejuízo para a expetativa sucessória que a norma visa acautelar pelo facto de serem também filhos, e portanto futuros herdeiros legitimários, do cônjuge que sobreviva ao outro. Simultaneamente, a partilha segundo regimes convencionados nos termos citado artigo 1719.º só pode ser permitida quando só haja filhos comuns. De outra forma, esta disposição permitiria defraudar, ainda que apenas em caso de morte, a expetativa dos outros descendentes herdeiros legitimários, contra a ratio da proibição do n.º 2 do artigo 1699.º
[25] O legislador refere-se expressamente ao casamento, note-se, não ao divórcio. Que o divórcio não seja fonte de enriquecimento faz, é claro, todo o sentido, atendendo a que é um falhanço da instituição. Já que o casamento, cuja característica essencial é a plena comunhão de vida, seja fonte de enriquecimento para um ou ambos os cônjuges não me parece coisa que deva preocupar o legislador.
[26] Estendendo a sanção que a lei previa para o cônjuge culpado a ambos os cônjuges (exceto nos artigos 1760.º n.º 1, al. b) e n.º 2 e 1766.º, n.º 1, al. c), que se esqueceu de alterar e que, portanto, neste momento, a não ser que se faça uma interpretação corretiva, são incompreensíveis) e criando para o cônjuge que não deu causa à rutura da relação matrimonial um regime mais gravoso do que aquele que as alíneas a) do nº1 do artigo 1760.º e b) do n.º 1 do artigo 1766.º, conjugados com os artigos 1647.º e 1648.º, estabelecem para o cônjuge de boa-fé em caso de anulação ou declaração de nulidade do casamento.
[27] E a própria união de facto. Cf. as alterações que a Lei 23/2010, de 30.08 fez ao n.º 2 do artigo 1.º da lei de Protecção da União de Facto: “A união de facto é a situação jurídica de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de dois anos.”
[28] Não se leia aqui qualquer tomada de posição contra a união de pessoas do mesmo sexo que produza efeitos civis paralelos ou análogos aos do casamento. O legislador podia até chamar-lhe casamento, em vez de optar pela “união civil” de alguns Países, mas, para tal, teria de ter alterado de forma significativa e consistente o respetivo regime que, em larga medida, só faz sentido se estivermos a falar de pessoas de sexo diferente. Cf., a esse propósito, o prazo internupcial, a interconexão entre o casamento civil e o casamento religioso, o reconhecimento civil das causas de nulidade do casamento católico e da dispensa do casamento rato não consumado, o casamento urgente e os demais casamentos sem processo preliminar de publicações com efeitos civis, boa parte dos deveres conjugais, as presunções legais relativas à duração da concepção e da gestação, a presunção de paternidade a favor do marido da Mãe, o regime das responsabilidades parentais relativas aos filhos, etc..
[30] NOGUEIRA, op.cit., pp. 667 e ss.
[31] Caducam também se o donatário morrer antes do doador e ainda no caso de declaração de nulidade do ou anulação do casamento, sem prejuízo do regime do casamento putativo – cf. o artigo 1703.º/1 do CC. No que respeita ao fracasso do casamento, apesar das normas que preveem esta causa de caducidade – as dos artigos 1760.º e 1766.º do CC - ainda fazerem referência à culpa, há de considerar-se essa condição tacitamente revogada pela Lei 61/2008, de 31 de outubro, que instituiu o novo regime jurídico do divórcio, eliminou a possibilidade de o Tribunal fazer referência à culpa no divórcio e estendeu todas as outras antigas sanções patrimoniais do divórcio reservadas ao cônjuge único ou principal culpado a ambos os cônjuges. O que aqui se disse quanto às doações mortis causa vale (exceto na parte que se refere à possibilidade de o donatário falecer antes do doador) para as doações inter vivos para casamento e para as doações entre casados. Há, finalmente, que ressalvar o disposto no n.º 2 do artigo 1703.ª: doação por morte for feita por terceiro, não caduca pelo predecesso do donatário, quando ao doador sobrevivam descendentes legítimos daquele, nascidos do casamento, os quais serão chamados a suceder nos bens doados, em lugar do donatário. Muita se fala a propósito da suposta inconstitucionalidade desta norma, por discriminar entre filhos nascidos dentro e fora do casamento, distinção que, no meu entender, não é, neste caso, inconstitucional atendendo a que a doação é excecionalmente permitida precisamente para favorecer aquele casamento.
[32] Sendo que estes subtipos de contratos sucessórios válidos – um terceiro a favor de um ou ambos os esposados ou este(s) a favor de um terceiro que intervenha como aceitante na convenção – também têm um regime de revogabilidade próprio, o dos artigos 1701.º e 1705.º do CC.
[33] TELLES, Inocêncio Galvão, Direito das Sucessões - Noções Fundamentais, Lisboa: Centro de Estudos de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1971, pp. 106-107.
[34] TELLES, op. cit., p. 109.
[35] «1. Se alguém é chamado à herança, simultânea ou sucessivamente, por testamento e por lei, e a aceita ou repudia por um dos títulos, entende-se que a aceita ou repudia igualmente pelo outro; mas pode aceitá-la ou repudiá-la pelo primeiro, não obstante a ter repudiado ou aceitado pelo segundo, se ao tempo ignorava a existência do testamento. 2. O sucessível legitimário que também é chamado à herança por testamento pode repudiá-la quanto à quota disponível e aceitá-la quanto à legítima.». Não pode, portanto, fazer o contrário: repudia-la quanto à legítima – ou, no caso, renunciar por contrato – e aceitá-la quanto à quota disponível.
[36] Cf. os artigos 4.º e 5.º da Lei 7/2001, que remetem para as disposições relativas à proteção do cônjuge dos artigos 1704.º, 1705.º e 1793.º do CC.
[37] Ver HÖRSTER, HEINRICH EWALD, “Does Portugal Need to Legislate on De Facto Unions?”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 13, n. º 3 (1999), pp. 274-279.
Eva Dias Costa * **
Eva Dias Costa * **
* Este artigo traduz, em parte, a comunicação ao Colóquio Comemorativo dos 50 Anos do Código Civil, Universidade Portucalense/Ordem dos Advogados, Porto, 10 de novembro de 2017. Na parte final, analisa os contratos sucessórios renunciativos entre nubentes agora permitidos em resultado da publicação da Lei 48/2018, de 14 de agosto, e é uma súmula das conferências proferidas ao longo dos últimos meses quer no Conselho Regional do Porto quer em várias Delegações deste Conselho da Ordem dos Advogados.
** Doutora em Direito, Professora Auxiliar do Departamento de Direito, Investigadora do Instituto Jurídico Portucalense, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, Portugal, eva@upt.pt
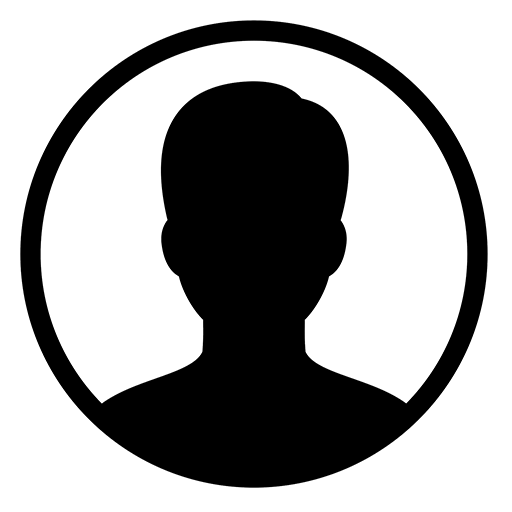 Paulo Duarte
Paulo Duarte
 Entre com a OA
Entre com a OA