A Importância do Texto da Lei na Interpretação de Normas Jurídicas
Tal como escrevemos noutro lugar[1], podemos dizer que o primeiro objetivo do Direito é, antes de mais, resolver (e prevenir) conflitos entre pessoas segundo um critério de justiça.
Na verdade, o ser humano só se realiza enquanto tal em sociedade, mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tenta prosseguir os seus objetivos individuais, proteger os seus interesses e explorar as suas oportunidades. É “esta ‘sociabilidade não-social’ no dizer de Kant, que explica as diversidades de interesses, as quais podem conduzir a tensões, tensões essas que surgem tanto entre os homens entre si como entre o homem e a sociedade, a comunidade, em que se insere. Estas tensões, resultantes de interesses divergentes, se por um lado se revelam como estimulantes e dinamizadoras podem, por outro lado, assumir a extensão de conflitos” [2].
Nas sociedades ocidentais, este objetivo de resolver e prevenir conflitos entre os membros da sociedade é normalmente prosseguido pela criação de normas gerais e abstratas por parte dos órgãos políticos da comunidade, as quais são depois aplicadas pelos tribunais na resolução dos conflitos concretos.
Naturalmente que a norma legal não vale apenas por si ou pela legitimidade política do órgão que a criou; essa norma vale, antes de mais, porque encerra uma pretensão de justiça, ou seja, porque liga a uma certa situação típica de conflito de interesses (descrita na sua hipótese legal) a solução que o legislador entende ser a solução justa para esse tipo de conflito[3].
As leis são, assim, enunciados linguísticos (textos) através dos quais o legislador instrui o julgador sobre os critérios que devem presidir à resolução de conflitos concretos entre pessoas, critérios determinados pelo mesmo legislador no exercício da sua função política.
Não surpreende, por isso, que o problema da interpretação das leis ainda seja um dos problemas fundamentais da aplicação do Direito, apesar de hoje ser reconhecido que o momento crucial da aplicação do Direito deixou de ser a interpretação da norma para passar a ser a resolução do caso.
Ultrapassada a ortodoxia positivista, e superado o lugar sacramental que a mesma reservava ao texto da lei, assiste-se hoje em dia a uma desvalorização do texto da lei, por um lado porque se considera que qualquer enunciado linguístico é, pela sua própria natureza, passível de vários sentidos e, por outro, porque mesmo quando essa ambiguidade parece estar ausente, tal conclusão já é ela própria o resultado de um processo interpretativo no qual foram ponderados outros elementos de interpretação – ou seja, mesmo quando o texto é claro, ele não é o elemento decisivo da interpretação da norma. “A interpretação deve ser orientada pelo sentido e fim da norma; por isso, são estes elementos e não o sentido literal que constituem o seu critério determinativo”[4].
Deste modo, mesmo quando o intérprete conclui que o sentido a extrair do texto da lei corresponde ao significado natural das palavras usadas pelo legislador, nem assim é dispensada a interpretação, pois esta conclusão resulta já de uma atividade interpretativa, é ela própria um resultado de interpretação[5].
Por outro lado, importa ter presente que o objeto de interpretação não é o texto em si, mas a norma que o texto pretende manifestar enquanto critério de decisão de conflitos[6]; daí a necessidade de ter em conta outros elementos de interpretação para além do texto.
Estas considerações conduzem a uma relativa desvalorização do texto enquanto elemento de interpretação, em benefício, por um lado, da razão de ser da lei (da ratio legis), e, por outro, da unidade de sentido do sistema jurídico – de uma certa ideia de coerência interna do sistema que se desenvolve ao nível dos valores, da finalidades das normas e das próprias normas, e que deve estar presente, desde logo, no próprio instituto em que se integra a norma a interpretar.
Recorrendo à terminologia da doutrina tradicional, há hoje uma desvalorização do elemento literal em benefício dos elementos teleológico (ou finalístico) e sistemático, desempenhando este último uma função bem mais ampla do que aquela que lhe era apontada pela doutrina tradicional.
Note-se, porém, que esta relativa desvalorização do texto não importa uma anulação do texto enquanto meio de chegar à tal ideia de justiça (ao critério de resolução de certo tipo de conflitos) que o legislador pretendeu transmitir através do texto da lei. Num sistema como o nosso, baseado na lei escrita, o texto da lei continua a desempenhar um papel fundamental na interpretação das normas e, consequentemente, na realização do Direito.
Esta importância é confirmada pelo art.º 9.º do Código Civil nas várias funções que esta norma assinala ao texto, enquanto elemento de interpretação. Sem tomar partido na discussão em torno de saber se a norma em causa tem caráter precetivo ou meramente didático[7], as soluções preconizadas pelo legislador no art. 9.º não deixam de ser importantes, por si e por, em vários aspetos, serem coerentes com os princípios constitucionais vigentes nesta matéria e algumas preocupações de índole político-legislativa, como veremos adiante.
Segundo o art. 9.º, n.º 1, o texto é, desde logo e antes de mais, o ponto de partida da interpretação da norma[8], pois o intérprete deve “reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo”; parte-se do texto da lei para procurar o espírito da lei, o pensamento, o sentido, que o texto pretende manifestar.
Por outro lado, o texto define ainda os limites da interpretação: “Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso”; ou seja, de entre os vários sentidos possíveis que a consideração de todos os elementos de interpretação possa sugerir ao intérprete (ou que resultem de aspetos puramente subjetivos do mesmo intérprete), não poderão ser considerados aqueles que não tenham na letra da lei alguma correspondência, ainda que mínima ou remota.
Finalmente, o texto desempenha uma terceira função: “na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador […] soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”. Perante vários sentidos possíveis sugeridos pela consideração de todos os elementos de interpretação, sem que nenhum desses elementos aponte decisivamente apenas para um desses sentidos, o intérprete deve eleger aquele que mais se aproxime do significado natural das palavras usadas no texto da lei, ou, como refere J. Baptista Machado, “Só quando razões ponderosas, baseadas noutros subsídios interpretativos, conduzem à conclusão de que não é o sentido mais natural e directo da letra que deve ser acolhido, deve o intérprete preteri-lo”[9].
Esta importância dada ao texto da lei compreende-se bem num sistema jurídico baseado essencialmente na lei escrita, dado que é através do texto que o legislador comunica com o julgador[10], é através do texto que o julgador acede à norma e, concomitantemente, à ideia de justiça (ou conceção de justiça) que o legislador pretendeu transmitir.
Na verdade, as normas representam respostas do legislador “a questões ou problemas de regulamentação jurídica […], representam já, ao fim e ao cabo, ‘interpretações’ do legislador da sua própria concepção de Direito ou da ideia de Justiça a que adere”[11]; isto é, perante uma questão juridicamente relevante, o legislador elege uma de várias respostas possíveis, de acordo com a sua ideia de justiça.
É muito difícil (em alguns casos praticamente impossível) resolver conflitos de interesse concretos apenas com referência a uma ideia (vaga) de justiça ou mesmo com referência aos princípios gerais de Direito. Estes “são os pensamentos diretores de uma regulamentação jurídica existente ou possível. Em si mesmos não são ainda regras suscetíveis de aplicação, embora possam transformar-se em regras. […] Os princípios indicam apenas a direção [o sentido] da regra que se pretende encontrar. Podemos dizer que são o primeiro passo para a obtenção da regra, que determina os passos posteriores”[12].
Neste sentido, e no que toca à função de dirimir conflitos de interesse, os princípios carecem de concretização, a qual resulta numa norma (ou em várias normas), e esta concretização pressupõe uma nova valoração[13], uma decisão entre várias possibilidades, decisão essa que envolve uma escolha política.
Com efeito, enquanto pensamento diretor, um determinado princípio comporta um conjunto de concretizações todas elas “justas” porque conformes ao princípio em causa, ou seja, contém uma “pluralidade de possibilidades de concretização”[14]. Assim, a criação de uma norma inspirada no princípio (a concretização do princípio numa determinada direção) obriga à escolha de uma dessas possibilidades.
Esta escolha, e o juízo de valor que a mesma encerra, é o momento político do ato legislativo, e nela o legislador atua em nome do Povo, como resulta do art. 108.º da nossa Constituição. Tal como acontece na definição dos valores constitucionais, nas democracias representativas, a concretização (e interpretação) desses valores é levada a cabo pelos órgãos políticos (nomeadamente a Assembleia da República), os quais atuam em nome do Povo, exercendo uma competência política[15].
Tomemos o exemplo do erro na declaração, consagrado no art. 247.º do Código Civil. O legislador poderia ter adotado a solução de permitir a anulabilidade da declaração negocial mediante a simples alegação do erro, como poderia ter optado pela solução diametralmente oposta, não atribuindo qualquer relevância jurídica ao erro da declaração (impedindo a invalidade da declaração negocial); poderia ainda ter optado por uma de várias soluções intermédias, como permitir a anulação da declaração apenas quando o erro fosse conhecido do declaratário (ou por ele devesse ser conhecido).
Do art. 247.º resulta uma solução intermédia, mas diferente da atrás mencionada: a declaração é anulável se o erro recair sobre um elemento essencial da mesma, para o declarante, e se o declaratário conhecer essa essencialidade (e não o erro) ou dever conhecê-la.
Qualquer uma destas soluções estaria dentro dos limites do que se pode considerar uma solução justa para a questão jurídica posta pela existência de um erro na declaração – certamente, cada um de nós terá uma opinião sobre qual é a solução mais correta (ou mais justa) para esta questão, mas nenhuma das hipóteses acima apresentadas ofende clamorosamente a nossa consciência jurídica.
Na redação do art. 247.º, foram certamente ponderados pelo legislador o princípio da autonomia privada, o princípio da confiança, a exequibilidade prática da solução, a segurança do tráfico jurídico, e, sem dúvida, aspetos ligados às próprias concepções do legislador, ou seja, todos os aspetos que naquela questão deveriam ser convocados na configuração da norma enquanto concretização de uma ideia diretora de justiça.
Por tudo isto se pode dizer que as normas exercem uma função de mediação entre os princípios jurídicos e os concretos conflitos de interesse, mediação essa exercida em dois sentidos: por um lado, cada norma traduz uma certa ideia (conceção) de justiça (do legislador), e é através dela (do enunciado linguístico contido na norma) que se revela essa ideia de justiça; por outro lado, é também através da norma que o princípio jurídico concretizado na mesma adquire positividade e, portanto, juridicidade[16].
Sob o ponto de vista da técnica legislativa, a norma descreve, na sua hipótese, uma certa categoria de conflito de interesses (ligando-se deste modo aos concretos conflitos que a mesma norma há de resolver quando convocada pelo tribunal para esse efeito) e, na estatuição, associa a esse tipo de conflito uma solução que revela a conceção de justiça do legislador, a qual resulta já de uma interpretação que o mesmo levou a cabo dos princípios enformadores do ordenamento jurídico.
Voltando ao art. 247.º do Código Civil, qual é a ideia de justiça que o legislador nos comunica através dessa norma?
Em primeiro lugar, o legislador diz-nos que é justo proteger a liberdade negocial do declarante, e daí que a verificação de um erro na declaração cause a invalidade dessa mesma declaração.
Em segundo lugar, diz-nos também que é justo que essa invalidade revista a forma de uma simples anulabilidade; isto porque está em causa um interesse privado, que é o interesse do declarante em não ficar vinculado a uma declaração negocial que não é idónea a produzir o efeito jurídico que ele pretendeu obter. E ao consagrar-se uma anulabilidade protege-se também a segurança do tráfico jurídico, pois a nulidade teria consequências mais prejudiciais a esse nível.
Em terceiro lugar, o legislador diz-nos que não é justo proteger a liberdade negocial do declarante a qualquer preço; é necessário proteger também a confiança gerada no declaratário, mas de modo limitado, porque não se exige o conhecimento do erro propriamente dito mas apenas o conhecimento da essencialidade do elemento sobre que incidiu esse erro.
Ora, estabelecida a norma que resulta do art. 247.º, e respetivo critério de resolução do problema do erro na declaração, não é lícito ao tribunal resolver este problema aplicando outro critério de justiça, por exemplo, exigindo para a anulabilidade o conhecimento do erro propriamente dito por parte de declaratário (e não simplesmente o conhecimento da essencialidade do elemento sobre incidiu esse erro), ainda que o tribunal, suportado ou não em doutrina, entenda que a solução consagrada na lei não é a mais justa. O tribunal deve aplicar o critério definido pelo legislador porque a sua legitimidade para administrar a justiça em nome do povo decorre justamente da sua subordinação à lei (art. 203.º da Constituição).
Outra atitude violaria frontalmente o princípio da separação de poderes, consagrado no art. 111.º da Constituição da República Portuguesa. Na verdade, o juiz que assim procedesse estaria a sobrepor a sua ideia de justiça (a sua interpretação da justiça) à ideia de justiça do legislador, fazendo uma escolha política sem ter legitimidade para tal.
Ao mesmo tempo, essa atitude violaria também o princípio da igualdade consagrado no art. 13.º da Constituição, na medida que se cada tribunal sobrepusesse o seu critério de justiça ao critério do legislador, a resolução de cada conflito de interesses não dependeria do que está estatuído na lei mas das convicções de cada juiz; só por acaso teríamos decisões semelhantes para o mesmo problema.
Em terceiro lugar, a alteração por via interpretativa do critério de justiça estabelecido pelo legislador violaria o princípio da legalidade inscrito no art. 203.º da Constituição.
Finalmente, este tratamento desigual da mesma questão jurídica comprometeria, de modo irremediável, a uniformidade de julgados e a segurança jurídica, na medida em que seria posta em causa a previsibilidade das decisões judiciais – seria o caos na administração da justiça.
Ora, justamente o que se pretende com normas gerais e abstratas é, entre outras coisas, assegurar a igualdade de todos perante a lei, a uniformidade possível das decisões judiciais e a consequente segurança (previsibilidade) daí resultante na aplicação do Direito.
Em conclusão, no entusiasmo da superação do positivismo, e na afirmação do valor fundamental dos Princípios Gerais de Direito, enquanto corolários da ideia de Justiça a que aspira qualquer ordenamento jurídico, não devemos esquecer o valor fundamental do texto da lei enquanto meio através do qual o legislador nos comunica a sua interpretação desses Princípios e dessa ideia de Justiça.
[1] Cfr. Será a negociação coletiva desejável no contexto dos life time contracts? in “Actas do colóquio internacional organizado pelo Centro de investigação interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade do Minho”, E-Book https://issuu.com/direitoprivado/docs/em_torno_de_life_time_contracts, 2016, pp. 55 e ss.
[2] Heinrich Hörster, A Parte Geral do Código Civil Português – Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, 1992, p. 7.
[3] Karl Larenz, no seu ensaio Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik (trad. espanhola de Luis Díez-Picazo, Civitas, 1985, reimp. 1993), refere que a “tarefa do jurista […] consiste em encontrar decisões justas de casos concretos” (tradução nossa do castelhano); em sentido essencialmente semelhante, referindo-se a cada norma como a concretização de uma certa ideia de justiça, cfr. J. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 13.ª reimp., Almedina, 2002, pp. 208 e ss.
[4] Santos Justo, Introdução ao Estudo do Direito, 7.ª ed., Coimbra Editora, 2015, p. 368.
[5] Cfr. Castanheira Neves, Interpretação Jurídica, in “Enciclopédia Polis”, vol. 3, Ed. Verbo, col. 653.
[6] Neste sentido, Castanheira Neves, Interpretação Jurídica cit., cols. 657 e ss, e, mais recentemente, o Comentário ao Código Civil – Parte Geral, Universidade Católica Editora – Lisboa, 2014, p. 46.
[7] Cfr. J. Baptista Machado, Introdução … cit., pp. 173/174, e Comentário … cit., p. 47.
[8] Em rigor, o que desencadeia o processo aplicação do Direito à resolução de um conflito é o caso, o conflito propriamente dito, e a procura da norma que é apta a resolver esse conflito já leva em si uma pré-compreensão desse caso (da questão jurídica que o mesmo envolve) e, num certo sentido, da própria norma a aplicar, mas a interpretação de uma norma tem necessariamente de partir do texto no qual a mesma se manifesta, como refere Menezes Cordeiro (Tratado de Direito Civil I, 4.ª ed. Almedina, 2102, p. 696).
[9] Introdução … cit., p. 189.
[10] Menezes Cordeiro, Tratado … cit., p. 700.
[11] J. Baptista Machado, Introdução … cit., p. 207.
[12] Karl Larenz, Richtiges Recht … cit., págs. 32 e 33 (tradução nossa do castelhano).
[13] Karl Larenz, Richtiges Recht ... cit., pág. 33.
[14] Karl Larenz, Richtiges Recht ... cit., pág. 31.
[15] É também por esta razão que a enunciação de certos princípios em diplomas legais além de inútil pode tornarse inconveniente, se for entendida como um mandato dado pelo legislador ao tribunal para concretizar esses princípios para além do direito posto; este mandato não poderá deixar de ser considerado uma violação grosseira do princípio da separação de poderes consagrado no art. 111.º da Constituição. 16 Cfr. J. Baptista Machado, Introdução … cit., págs. 207 e 292.
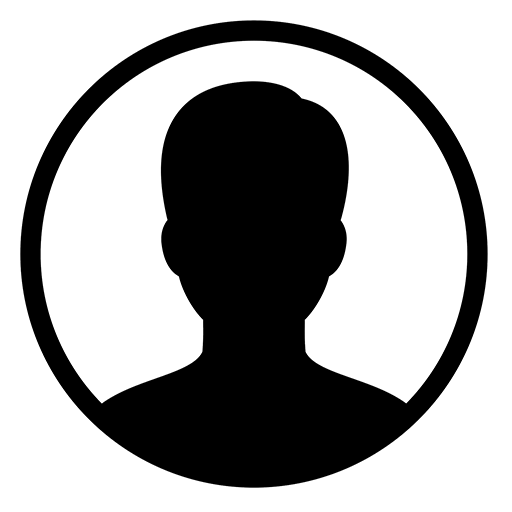 Paulo Duarte
Paulo Duarte
 Entre com a OA
Entre com a OA